Há 14 anos
quinta-feira, 31 de agosto de 2006
Porque sim
Deus é de Mafamude. Às vezes é bom acreditar que sim.
quarta-feira, 30 de agosto de 2006
Andre
Pode ser hoje, amanhã ou até depois. O Andre Agassi está em prova no Open dos EUA e, apesar de ainda ontem o ter visto recuperar de um 4-0 no terceiro set, vai cair um dia destes. Nada de novo: de quedas se fez a carreira deste homem a quem o comentador da Eurosport chamou «cabrito de 36 anos» (!). O problema é que esta não será uma queda qualquer: é A queda, a derradeira, a que porá termo a uma carreira de 20 anos.
Nenhum tenista conseguiu passar pelo número 1 do ranking em três décadas diferentes, nenhum venceu, na era do open, todos os torneios do Grand Slam em superfícies distintas. Mas a razão que me levará às lágrimas um destes dias não tem, como é natural, ligação directa a números, recordes e façanhas «técnicas».
Tinha acabado de fazer 12 anos quando vi o primeiro jogo do Andre Agassi. Não conhecia as regras do ténis, não me interessava por desporto e estava longe de imaginar que ali, no ecrã do televisor, na minha casa em Santo Ovídio, estava uma paixão para toda a vida. Ao contrário do que aconteceu com tantos dos ídolos e heróis que tive na adolescência e arranque de idade adulta, o menino cabeludo que se fez homem careca nunca abandonou o meu coração.
Era uma criança quando ele perdia jogos improváveis ou finais importantíssimas e chorava como se a carreira do «kid de Las Vegas» tivesse chegado ao fim (tantas vezes, e de forma tão precoce, anunciado...). 16 (!) anos volvidos, continuo a emocionar-me com a forma e a força que mostra no court. Como consegue virar um jogo do avesso, meter a bola onde qualquer outro nem se lembraria de ser possível, como retorna ao campo aos saltinhos de entusiasmo (daí a história do cabrito, valha-me Deus), perante o histerismo de um público gradualmente seu.
Nem sempre o seu talento foi reconhecido, nem sempre as gentes de Nova Iorque – já que estamos em tempo de US Open - viram nele mais do que um glamouroso tenista, um tudo-nada estouvado. Surpreende-me a unanimidade que se gerou nos últimos anos em seu redor: lembrar-se-á esta gente dos epítetos que caíam sobre os ombros do rapaz aos 20 e poucos anos? Falhado, nunca ganhará um Grand Slam, tenista de Hollywood... Sem nunca perder o carisma (nem que tentasse o conseguiria), Andre Agassi deu a volta a isto e muito mais. Caiu para número 144 do ranking e regressou para ganhar (mais) grandes Slams, triunfou em Roland Garros, ao contrário de quase todos os seus parceiros de grandeza (com Sampras à cabeça), tornou-se um ícone transversal, não perdendo no entanto a ligação à casa-mãe: o desporto que o pai o pôs a jogar mal reparou que, em bebé, Andre seguia de forma impiedosa a bola posta a balouçar por cima do berço.
Em 16 anos, o Andre Agassi tornou-se parte integrante das minhas rotinas. Nem todas boas: lembro-me de três ou quatro discussões com o meu pai, à conta de jogos (dele) e fitas (minhas), o que é especialmente relevante pois se eu tive uma dúzia de discussões a sério com o meu pai em 28 anos de vida, é muito. A minha mãe começou a torcer pelo Sampras para equilibrar as forças lá em casa. Tive, durante 12 anos benza-o Deus, um rouxinol chamado Agassi. Descobri dezenas de revistas teen e outras maroscas para me manter a par das desventuras light do homem, numa altura em que a Internet estava longe e encontrar, em Portugal, alguém que tivesse um tenista americano como ídolo era mais complicado que conhecer alguém com três rins.
Muitas das minhas memórias mais divertidas (e das mais dramáticas, também) remontam a jogos do homem. Wimbledon 92 em primeiro lugar, é claro: até fiz (e cumpri) a promessa de que, se ele ganhasse a final (o que era visto como uma missão impossível), ia duas vezes à missa naquele Domingo (vivia frente à igreja). Os jogos da Taça Davis. A milagrosa vitória em Roland Garros, à qual assisti, em sofrimento, com as minhas amigas, em tarde de aniversário. A sensação de que tudo é possível (para o bom e para o mau…), nem que o resultado de um parcial pareça definitivamente arrumado. Adivinhar as jogadas, desejar a reviravolta, torcer-me toda no match point.
Por causa do Andre Agassi passei a gostar de ver ténis, e por arrasto mais uns quantos desportos. Aquando dos Masters de Lisboa, em 2000, não desperdicei a oportunidade de o ver jogar ao vivo. As minhas amigas não desperdiçaram a oportunidade de me acompanhar e apoiar em tão histórica ocasião. Dias antes da final perdida contra o Kuerten, ia a entrar no Atlântico quando vi que havia uma sessão de autógrafos e jogatana com os miúdos, num pavilhão ao lado. Ia morrendo esmagada mas consegui furar entre a multidão e chegar à fala / ao aperto de mão com o homem. Não sei onde está o autógrafo, mas o importante é que aconteceu: mostrei a minha devoção em meia dúzia de palavras e saí de lá aliviada. Marquei um pontinho no gigantesco mapa da vida do homem que acompanhara toda a minha juventude.
Hoje, amanhã ou depois, um dia destes, tudo isto será de uma vez por todas Passado. O senhor vai dedicar-se à família (um verdadeiro conto de fadas da vida real…), à fundação de caridade, quem sabe a treinar e apoiar novos talentos. Daqui a uns anos teremos (?) os petizes Graf-Agassi a passear a herança genética pelos courts. Até lá, ficam as memórias. É absorver tudo o que o homem ainda consegue mostrar, nos próximos dias.
Nenhum tenista conseguiu passar pelo número 1 do ranking em três décadas diferentes, nenhum venceu, na era do open, todos os torneios do Grand Slam em superfícies distintas. Mas a razão que me levará às lágrimas um destes dias não tem, como é natural, ligação directa a números, recordes e façanhas «técnicas».
Tinha acabado de fazer 12 anos quando vi o primeiro jogo do Andre Agassi. Não conhecia as regras do ténis, não me interessava por desporto e estava longe de imaginar que ali, no ecrã do televisor, na minha casa em Santo Ovídio, estava uma paixão para toda a vida. Ao contrário do que aconteceu com tantos dos ídolos e heróis que tive na adolescência e arranque de idade adulta, o menino cabeludo que se fez homem careca nunca abandonou o meu coração.
Era uma criança quando ele perdia jogos improváveis ou finais importantíssimas e chorava como se a carreira do «kid de Las Vegas» tivesse chegado ao fim (tantas vezes, e de forma tão precoce, anunciado...). 16 (!) anos volvidos, continuo a emocionar-me com a forma e a força que mostra no court. Como consegue virar um jogo do avesso, meter a bola onde qualquer outro nem se lembraria de ser possível, como retorna ao campo aos saltinhos de entusiasmo (daí a história do cabrito, valha-me Deus), perante o histerismo de um público gradualmente seu.
Nem sempre o seu talento foi reconhecido, nem sempre as gentes de Nova Iorque – já que estamos em tempo de US Open - viram nele mais do que um glamouroso tenista, um tudo-nada estouvado. Surpreende-me a unanimidade que se gerou nos últimos anos em seu redor: lembrar-se-á esta gente dos epítetos que caíam sobre os ombros do rapaz aos 20 e poucos anos? Falhado, nunca ganhará um Grand Slam, tenista de Hollywood... Sem nunca perder o carisma (nem que tentasse o conseguiria), Andre Agassi deu a volta a isto e muito mais. Caiu para número 144 do ranking e regressou para ganhar (mais) grandes Slams, triunfou em Roland Garros, ao contrário de quase todos os seus parceiros de grandeza (com Sampras à cabeça), tornou-se um ícone transversal, não perdendo no entanto a ligação à casa-mãe: o desporto que o pai o pôs a jogar mal reparou que, em bebé, Andre seguia de forma impiedosa a bola posta a balouçar por cima do berço.
Em 16 anos, o Andre Agassi tornou-se parte integrante das minhas rotinas. Nem todas boas: lembro-me de três ou quatro discussões com o meu pai, à conta de jogos (dele) e fitas (minhas), o que é especialmente relevante pois se eu tive uma dúzia de discussões a sério com o meu pai em 28 anos de vida, é muito. A minha mãe começou a torcer pelo Sampras para equilibrar as forças lá em casa. Tive, durante 12 anos benza-o Deus, um rouxinol chamado Agassi. Descobri dezenas de revistas teen e outras maroscas para me manter a par das desventuras light do homem, numa altura em que a Internet estava longe e encontrar, em Portugal, alguém que tivesse um tenista americano como ídolo era mais complicado que conhecer alguém com três rins.
Muitas das minhas memórias mais divertidas (e das mais dramáticas, também) remontam a jogos do homem. Wimbledon 92 em primeiro lugar, é claro: até fiz (e cumpri) a promessa de que, se ele ganhasse a final (o que era visto como uma missão impossível), ia duas vezes à missa naquele Domingo (vivia frente à igreja). Os jogos da Taça Davis. A milagrosa vitória em Roland Garros, à qual assisti, em sofrimento, com as minhas amigas, em tarde de aniversário. A sensação de que tudo é possível (para o bom e para o mau…), nem que o resultado de um parcial pareça definitivamente arrumado. Adivinhar as jogadas, desejar a reviravolta, torcer-me toda no match point.
Por causa do Andre Agassi passei a gostar de ver ténis, e por arrasto mais uns quantos desportos. Aquando dos Masters de Lisboa, em 2000, não desperdicei a oportunidade de o ver jogar ao vivo. As minhas amigas não desperdiçaram a oportunidade de me acompanhar e apoiar em tão histórica ocasião. Dias antes da final perdida contra o Kuerten, ia a entrar no Atlântico quando vi que havia uma sessão de autógrafos e jogatana com os miúdos, num pavilhão ao lado. Ia morrendo esmagada mas consegui furar entre a multidão e chegar à fala / ao aperto de mão com o homem. Não sei onde está o autógrafo, mas o importante é que aconteceu: mostrei a minha devoção em meia dúzia de palavras e saí de lá aliviada. Marquei um pontinho no gigantesco mapa da vida do homem que acompanhara toda a minha juventude.
Hoje, amanhã ou depois, um dia destes, tudo isto será de uma vez por todas Passado. O senhor vai dedicar-se à família (um verdadeiro conto de fadas da vida real…), à fundação de caridade, quem sabe a treinar e apoiar novos talentos. Daqui a uns anos teremos (?) os petizes Graf-Agassi a passear a herança genética pelos courts. Até lá, ficam as memórias. É absorver tudo o que o homem ainda consegue mostrar, nos próximos dias.
quinta-feira, 24 de agosto de 2006
Amor - Ódio
No primeiro andar, tudo brilha, tudo cabe, tudo cativa.
São mesmo estes armários, estas estantes, estes cestos e candeeiros e bengaleiros e paninhos do pó que quero para a minha vida. Anoto, vou levar. Ainda por cima é barato.
No andar de baixo: não há. Stock esgotado. Custava muito avisar lá em cima?
Quando há, pegamos, pagamos e seguimos para o transporte & montagem. É caro, as filas não andam, os computadores dos funcionários encravam. No dia da entrega, atrasam-se, trazem coisas que não são bem aquelas que compramos, esquecem-se (!) que tinham ficado de passar lá por casa. Às vezes temos de ligar e perguntar por onde anda a mercadoria, que por acaso até já está paga - e afinal nem é tão pouco dinheiro como isso, quando ao preço base juntamos o de todos os acessórios que não sabíamos mas são vendidos à parte (e o acessório de um guarda-fatos, por exemplo, são os puxadores).
Acho que nunca tinha entendido bem o alcance da expressão «amor-ódio» até conhecer o IKEA.
(agora a minha esperança é que algum big shot da empresa leia isto e me ofereça um vale duns 1000 euros para gastar em Alfragide e, já agora, uma viagem para dois, com hotel e refeições, em Estocolmo)
São mesmo estes armários, estas estantes, estes cestos e candeeiros e bengaleiros e paninhos do pó que quero para a minha vida. Anoto, vou levar. Ainda por cima é barato.
No andar de baixo: não há. Stock esgotado. Custava muito avisar lá em cima?
Quando há, pegamos, pagamos e seguimos para o transporte & montagem. É caro, as filas não andam, os computadores dos funcionários encravam. No dia da entrega, atrasam-se, trazem coisas que não são bem aquelas que compramos, esquecem-se (!) que tinham ficado de passar lá por casa. Às vezes temos de ligar e perguntar por onde anda a mercadoria, que por acaso até já está paga - e afinal nem é tão pouco dinheiro como isso, quando ao preço base juntamos o de todos os acessórios que não sabíamos mas são vendidos à parte (e o acessório de um guarda-fatos, por exemplo, são os puxadores).
Acho que nunca tinha entendido bem o alcance da expressão «amor-ódio» até conhecer o IKEA.
(agora a minha esperança é que algum big shot da empresa leia isto e me ofereça um vale duns 1000 euros para gastar em Alfragide e, já agora, uma viagem para dois, com hotel e refeições, em Estocolmo)
Be generous

Era o meu favorito. A par do Doug Ross, do John Carter e do Peter Benton (OK, nunca me consegui decidir muito bem, dentre a riqueza do elenco original). Quis (o actor) experimentar novos desafios profissionais, morreu a personagem que ao longo deste anos se tornou um velho conhecido.
Quando era miúda chorei um fim-de-semana inteiro quando, num episódio da Missão Impossível, morreu uma das agentes. Achava sempre que aquele aviso inicial («se algum de vocês quinar, a gente lava as mãozinhas», etc) era só para despistar, e afinal a moça lá sucumbiu numa qualquer missão. Não eram imortais, nem querer na tela.
A morte do Doutor Greene foi coisa mais anunciada; um tumor no cérebro que jogou às escondidas com o médico durante um ano levou-o, eventualmente, às seis e quatro de uma manhã havaiana. Curioso como uma série que se passa quase sempre no hospital (frenético, caótico, cheio de vida - e morte), ou quanto muito no exterior, mas à noite ou em sítios escuros, se mudou para uma praia solarenga e luminosa para aquele que foi, provavelmente, o seu episódio mais sombrio de sempre.
O realismo da coisa (todos os nós que ficam por atar, a filha que até ao suspiro final do pai se comporta como aquilo que é - uma parvinha de 14 anos) e um breve mas incisivo flashback final provam que, ao contrário do que eu inicialmente pensava, se calhar não havia outra maneira de assinalar a despedida do Doutor Mark Greene. Se calhar, era mesmo preciso este sofrimento todo, este peso imenso que por segundos parecia real. Uma personagem daquelas não se manda embora com a desculpa de uma migração ou de um emprego noutro estado.
Para sempre ficará a imagem do médico, em suave delírio nos derradeiros segundos de vida, imaginando-se a deambular pelos corredores do hospital (para ele, símbolo do trabalho de uma vida, e não de doença ou morte) subitamente vazio. Ou o episódio anterior, em que o homem, já com poucas forças, insistia em continuar a trabalhar e dava de caras com muitas das pessoas com quem se cruzara até então, desde a mulher com a unha encravada do primeiro episódio ao sem abrigo que confia apenas naquele médico para impedir que os enfermeiros malvados o levem para longe do seu inseparável carrinho do lixo. Ou ainda a recusa em ver a sua vida prolongada pelos tratamentos que ele próprio tanta vez administrou aos pacientes, preferindo a morte «ao natural», tentando viver aqueles poucos de dias como se nada fosse. «Be generous» foi o último recado do Mark Greene à filha adolescente. Foi bonito.
Vá lá que, depois de tanto drama, mudei de canal e vi a maior badalhoca da pop actual (Fergie) a conspurcar o nome de Londres (e a Union Jack, pregada numas cuecas) na sua primeira musiqueta a solo. Pude passar rapidamente da choramingueira à maledicência, uma mudança muito bem recebida na altura. E hoje dá o House na TVI. Sinto-me como aquelas pessoas a quem morre um animal de estimação e dizem que não querem mais nenhum: não voltarei a ganhar afecto a um médico de uma série de televisão.
terça-feira, 22 de agosto de 2006
Londres
Cada vez que vou a Londres acho-a mais pequena - no bom sentido. Como se, paulatinamente, todas as peças que na primeira visita me pareceram confusas e distantes entre si se juntassem agora num mosaico cada vez mais bonito, compreensível, portátil.
Na semana passada voltei a Londres. Tal como no ano passado, estive pouco mais de 24 horas na cidade, trabalho oblige!, mas foi o suficiente para tirar várias notas mentais que ainda não partilhei por aqui graças a alguma preguiça. Mas Londres merece, como tal cá vai...
1. Londres sabe receber. Entro no comboio para o centro da cidade e está a revista do aeroporto de Gatwick à minha espera, com o Gael García Bernal na capa. Chego ao pequeno hotel de Camden onde viria a pernoitar e descubro que, naquela noite, há projecção de um dos meus filmes favoritos de sempre, "Shallow Grave". Na mesma tarde, dois polícias (um preto, outro branco, ambos extremamente prestáveis e divertidos - tal e qual como nos filmes) reparam numa portuguesa à nora no metro e dispõem-se a ajudar-me, sem que eu lhes pergunte nada. Pouco depois, um senhor entabula conversa comigo à conta das fotos que ia tirando, rua fora, com a descartável comprada no aeroporto, e ficámos uns bons minutos em amena e civilizada cavaqueira. No dia seguinte, vejo um polícia de moto, parado nos semáforos, a avisar duas turistas que corriam rua fora - os guardas a cavalinho iam passar no outro sentido. Os funcionários dessas malévolas corporações (Starbucks, para quando os teus apetecíveis cafés em Portugal, para quando?...) que inundam a cidade não nos atendem sem, na despedida, nos desejarem um bom dia, e parecem sinceros. Há uma sensação de ordem que não faz da cidade um sítio frio, pelo contrário. Em Londres, toda a gente parece estrangeira e, paradoxalmente, local.
2. Um dia é suficiente para encontrar muitos cromos. Antes de regressar, almocei num restaurante multilingue perto de Westminster. A empregada que serve às mesas na cave é supersónica: quando está por perto, ouve-se falar/gritar Italiano, Inglês, Português e voam pelo ar piropos do «bella» ao «doutore». Quando sobe ao primeiro andar, a sala fica subitamente vazia e morta. Os seus passos apressados, escadas abaixo, antecipam o retorno da energia e do vendaval linguístico à sala. Parece a Carla do "Cheers", jeans justas e sapatilhas brancas, mas em bonito. Não chego a perceber de que nacionalidade é mas despede-se com um «obrigado». Não é isso que me deixa com saudades antecipadas, mas a jacket potato também estava boa.
3. No centro fino de Londres, há dezenas de fashion statements ambulantes. A pose, a roupa, a simples forma como pisam a calçada lembram-nos os incontáveis movimentos estéticos, sociais ou musicais que a cidade já viu - ou já fez - nascer.
4. Ninguém tem medo da chuva. Eu também faço de conta que não me afecta, mas ainda deito um olhar furtivo às banquinhas de rua, esperando encontrar algures um guarda-chuva chinês a preço de amigo (cinco libras não só cinco euros, cinco libras não são cinco euros - luto comigo mesma para não me esquecer desta verdade básica mas essencial).
5. De todos os não muitos sítios onde já estive, Londres é o que mais se assemelha ao coração do mundo. Na sua grandeza, consegue ser - cada vez mais, para mim - pequena e acolhedora, solidária e hospitaleira, excitante mas amigável. Que atentem contra esta cidade e este ideal magoa-me (quase) tanto como se a bomba rebentasse na porta ao lado. Sem ofensa para os corações de mundos alheios.
Na semana passada voltei a Londres. Tal como no ano passado, estive pouco mais de 24 horas na cidade, trabalho oblige!, mas foi o suficiente para tirar várias notas mentais que ainda não partilhei por aqui graças a alguma preguiça. Mas Londres merece, como tal cá vai...
1. Londres sabe receber. Entro no comboio para o centro da cidade e está a revista do aeroporto de Gatwick à minha espera, com o Gael García Bernal na capa. Chego ao pequeno hotel de Camden onde viria a pernoitar e descubro que, naquela noite, há projecção de um dos meus filmes favoritos de sempre, "Shallow Grave". Na mesma tarde, dois polícias (um preto, outro branco, ambos extremamente prestáveis e divertidos - tal e qual como nos filmes) reparam numa portuguesa à nora no metro e dispõem-se a ajudar-me, sem que eu lhes pergunte nada. Pouco depois, um senhor entabula conversa comigo à conta das fotos que ia tirando, rua fora, com a descartável comprada no aeroporto, e ficámos uns bons minutos em amena e civilizada cavaqueira. No dia seguinte, vejo um polícia de moto, parado nos semáforos, a avisar duas turistas que corriam rua fora - os guardas a cavalinho iam passar no outro sentido. Os funcionários dessas malévolas corporações (Starbucks, para quando os teus apetecíveis cafés em Portugal, para quando?...) que inundam a cidade não nos atendem sem, na despedida, nos desejarem um bom dia, e parecem sinceros. Há uma sensação de ordem que não faz da cidade um sítio frio, pelo contrário. Em Londres, toda a gente parece estrangeira e, paradoxalmente, local.
2. Um dia é suficiente para encontrar muitos cromos. Antes de regressar, almocei num restaurante multilingue perto de Westminster. A empregada que serve às mesas na cave é supersónica: quando está por perto, ouve-se falar/gritar Italiano, Inglês, Português e voam pelo ar piropos do «bella» ao «doutore». Quando sobe ao primeiro andar, a sala fica subitamente vazia e morta. Os seus passos apressados, escadas abaixo, antecipam o retorno da energia e do vendaval linguístico à sala. Parece a Carla do "Cheers", jeans justas e sapatilhas brancas, mas em bonito. Não chego a perceber de que nacionalidade é mas despede-se com um «obrigado». Não é isso que me deixa com saudades antecipadas, mas a jacket potato também estava boa.
3. No centro fino de Londres, há dezenas de fashion statements ambulantes. A pose, a roupa, a simples forma como pisam a calçada lembram-nos os incontáveis movimentos estéticos, sociais ou musicais que a cidade já viu - ou já fez - nascer.
4. Ninguém tem medo da chuva. Eu também faço de conta que não me afecta, mas ainda deito um olhar furtivo às banquinhas de rua, esperando encontrar algures um guarda-chuva chinês a preço de amigo (cinco libras não só cinco euros, cinco libras não são cinco euros - luto comigo mesma para não me esquecer desta verdade básica mas essencial).
5. De todos os não muitos sítios onde já estive, Londres é o que mais se assemelha ao coração do mundo. Na sua grandeza, consegue ser - cada vez mais, para mim - pequena e acolhedora, solidária e hospitaleira, excitante mas amigável. Que atentem contra esta cidade e este ideal magoa-me (quase) tanto como se a bomba rebentasse na porta ao lado. Sem ofensa para os corações de mundos alheios.
sexta-feira, 11 de agosto de 2006
Elementar, meu caro House
Um médico mau como as cobras, mas que consegue descobrir coisas do arco da velha e deslindar mistérios inacessíveis ao resto dos mortais. Uma equipa de outros médicos («lacaios», chama-lhes ele) relativamente bem intencionados e bem apessoados, mas cuja nabice é exposta episódio sim, episódio sim, sempre que o seu guru misantropo entra em acção. Um misto de série de hospital (doenças, desgraças, casos da vida) e série de detectives (deduções, silogismos, entradas clandestinas em casa dos pacientes), com música à maneira (desde blues ao meu ryanzito) e ambiente um tudo-nada sombrio. Como é que eu não me havia de tornar fã desta bodega?

Eis-me regressada aos meus tempos de fanática por séries, e muito por causa do gigantesco actor que é o inglês Hugh Laurie. Na pele (americana) do infalível Dr. Gregory House, o Mourinho dos médicos - grisalho, sarcástico, amargoso - encanta as minhas noites de Segunda (Fox) e Quinta (TVI).
E pensar que tudo começou num Sábado à noite, quando a fazer zapping achei graça a que, numa série passada nos EUA, se falasse do Instituto de Medicina e Higiene Tropical, do qual fui vizinha enquanto andei na Faculdade... Oh yeah, os yankees levam a sério a pesquisa para escrever guiões.

Eis-me regressada aos meus tempos de fanática por séries, e muito por causa do gigantesco actor que é o inglês Hugh Laurie. Na pele (americana) do infalível Dr. Gregory House, o Mourinho dos médicos - grisalho, sarcástico, amargoso - encanta as minhas noites de Segunda (Fox) e Quinta (TVI).
E pensar que tudo começou num Sábado à noite, quando a fazer zapping achei graça a que, numa série passada nos EUA, se falasse do Instituto de Medicina e Higiene Tropical, do qual fui vizinha enquanto andei na Faculdade... Oh yeah, os yankees levam a sério a pesquisa para escrever guiões.
quinta-feira, 10 de agosto de 2006
Dias Assim
Pelo menos até agora, este dia, para mim, tem sido assim:

( obrigada à grande - literalmente, grande - Zuca Maria pela ilustração )

( obrigada à grande - literalmente, grande - Zuca Maria pela ilustração )
quarta-feira, 9 de agosto de 2006
Epifania
Eu não estava preparada para aquilo. No jornal, dias depois, o João Bonifácio chamava-lhes «cometa». Aqui ao lado o Vítor também ficou impressionado. No Fórum Sons não faltaram elogios e expressões bem certeiras para descrever o que se passou em Sines. Eu, quase duas semanas depois, continuo à procura das palavras adequadas.
Em teoria, o que vi foi um espectáculo de um grupo do sertão brasileiro, com um vocalista, três percussionistas e um guitarrista. Na prática, foi bem mais. Não estava à espera de nada e saí com tudo - sobretudo, com uma vontade imensa de conhecer mais, ouvir mais, ver mais. Comprei, à saída do castelo onde decorre o festival, um dos CDs da banda, que como temia não é tão violento como o concerto. Mas vale. Alguém diz no fórum dos moços que às vezes não nos fazia nada mal, a nós portugueses, beber um pouco mais da cultura que se estende do outro lado do Oceano, em Português tão português como o nosso.
Sob a influência das letras - arrebatadas, estranhas, singulares - que ouvi em Sines, não posso concordar mais. E que figura é aquele Lirinha, de fato branco, mangas compridonas e gravata vermelha, fazendo-se ao palco como se a sua vida dependesse daquele concerto, perdendo-se no frenesim e no trovoar das percussões com um esgar completamente demente e perverso?
Saí de Sines com uma nova banda preferida, e tendo em conta que, embora vários amigos me tentem a pensar o contrário, nunca entrei completamente no espírito do festival, isso conta muito. Quase tudo. Falta dizer que muita gente odiou. Acho que faz todo o sentido. Agora não descanso enquanto não voltar a pôr-lhes a vista em cima.

Em teoria, o que vi foi um espectáculo de um grupo do sertão brasileiro, com um vocalista, três percussionistas e um guitarrista. Na prática, foi bem mais. Não estava à espera de nada e saí com tudo - sobretudo, com uma vontade imensa de conhecer mais, ouvir mais, ver mais. Comprei, à saída do castelo onde decorre o festival, um dos CDs da banda, que como temia não é tão violento como o concerto. Mas vale. Alguém diz no fórum dos moços que às vezes não nos fazia nada mal, a nós portugueses, beber um pouco mais da cultura que se estende do outro lado do Oceano, em Português tão português como o nosso.
Sob a influência das letras - arrebatadas, estranhas, singulares - que ouvi em Sines, não posso concordar mais. E que figura é aquele Lirinha, de fato branco, mangas compridonas e gravata vermelha, fazendo-se ao palco como se a sua vida dependesse daquele concerto, perdendo-se no frenesim e no trovoar das percussões com um esgar completamente demente e perverso?
Saí de Sines com uma nova banda preferida, e tendo em conta que, embora vários amigos me tentem a pensar o contrário, nunca entrei completamente no espírito do festival, isso conta muito. Quase tudo. Falta dizer que muita gente odiou. Acho que faz todo o sentido. Agora não descanso enquanto não voltar a pôr-lhes a vista em cima.

My head's like a kite
Além da melancia e do Fenistil Gel, Verão sem isto...

... não é bem Verão. É o segundo post deste tasco sobre o mesmo disco, mas é capaz de não haver melhor para vir de comboio até Paço de Arcos e não ter (muita) inveja (mortal) das pessoas que se banham e jogam às raquetas e sorriem enquanto eu venho trabalhar. Shines, i lub you!

... não é bem Verão. É o segundo post deste tasco sobre o mesmo disco, mas é capaz de não haver melhor para vir de comboio até Paço de Arcos e não ter (muita) inveja (mortal) das pessoas que se banham e jogam às raquetas e sorriem enquanto eu venho trabalhar. Shines, i lub you!
Coisas simples
Nestes dias de canícula, conta-se em poucas palavras a minha vida.
Durante o dia, só preciso de
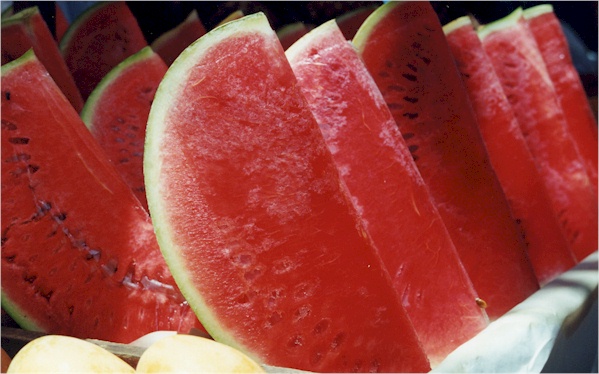
À noite, quando acordo com pernas, braços e dedinhos dizimados, a palavra de ordem é

Fosse a enfermeira Fátima tão engenhosa como estas melgas e tinha-se poupado um banho de sangue na consulta de Medicina do Trabalho, ontem. Cinco minutos com a seringa enfiada no meu braço, à procura da veia «marota» que teimava em escapar-lhe, para depois deixar cair o tubinho com o sangue ao chão. Imagino o que não terá pensado o rapaz que entrou a seguir, para fazer análises também, vendo o chão tingido de sangue...
Durante o dia, só preciso de
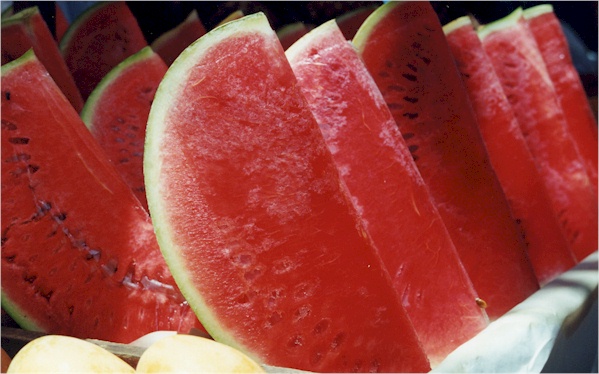
À noite, quando acordo com pernas, braços e dedinhos dizimados, a palavra de ordem é

Fosse a enfermeira Fátima tão engenhosa como estas melgas e tinha-se poupado um banho de sangue na consulta de Medicina do Trabalho, ontem. Cinco minutos com a seringa enfiada no meu braço, à procura da veia «marota» que teimava em escapar-lhe, para depois deixar cair o tubinho com o sangue ao chão. Imagino o que não terá pensado o rapaz que entrou a seguir, para fazer análises também, vendo o chão tingido de sangue...
terça-feira, 8 de agosto de 2006
Help
Há muitos comportamentos que tendo a compreender e/ou desculpabilizar nas pessoas. Maltratar, negligenciar e abandonar animais não é um deles. Ajudem a União Zoófila.
( hoje no Público:
Mais de 500 animais abandonados este ano na União Zoófila
Associação vive nova situação preocupante, com números recorde em termos de abandono e falta de verbas para fazer face às despesas )
( hoje no Público:
Mais de 500 animais abandonados este ano na União Zoófila
Associação vive nova situação preocupante, com números recorde em termos de abandono e falta de verbas para fazer face às despesas )
quarta-feira, 2 de agosto de 2006
2 de Agosto
Muitos parabéns a duas das pessoas mais importantes para mim: a minha amiga Cibele (que hoje chega à bela idade de 30 anos) e a minha Avó Maria, uma jovem de 95.




Subscrever:
Comentários (Atom)
Bons vizinhos
-
-
Há 13 anos
-
Há 12 anos
-
Há 14 anos
-
-
Há 16 anos
-
Há 15 anos
-
-
-
Há 6 anos
-
Há 14 anos
-
Há 12 anos
-
Há 11 anos
-
Há 13 anos
-
Há 14 anos
-
Há 11 horas
-
Há 11 anos
-
-
Há 13 anos
-
Há 19 horas
-
Há 15 anos
-
Há 9 anos
-
Há 1 ano