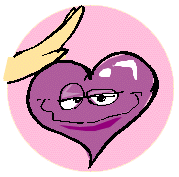Em tempos falei aqui na paixão avassaladora que nutri - e que na realidade ainda me move para muita coisa... - pelos Ornatos Violeta. Penso que não lhe chamei a minha maior devoção histérico-mediática; é que se o fiz, terei de repôr a verdade das coisas. Os Ornatos foram parte de leão da minha vida, mas continuam a viver na sombra do grande... Andre Agassi.
Dos 12 anos em diante torci desesperadamente por aquele a quem hoje todos chamam «veterano», «experiente» ou mesmo «lendário». Ainda me lembro quando era o «perdulário», «inconstante» ou «perdido para o ténis» - e tenho os recortes de jornais para provar a evolução.
Porque comecei eu, uma pré-adolescente que nem das aulas de ginástica na escola gostava, a acompanhar os torneios do Grand Slam e a ansiar pela secção do desporto do "Jornal de Notícias", nesses pré-históricos tempos sem Internet?
A princípio, e naquele que terá sido o mais fulminante caso de amor à primeira vista da minha infância, porque apanhei um jogo das meias-finais de Roland Garros, em 1990, no segundo canal, e fiquei deslumbrada. Pelo cabelo (sim, gente nova, havia e muito!), pelas roupas coloridas, pelo olhar do senhor que, então com apenas 20 anos, carimbava a primeira passagem à final do torneio parisiense. Perdeu. Fiquei triste. Hoje, quem se lembrará do colombiano Andrés Gomez? OK, eu. Mas já nessa altura não era muito normal.
Faltavam-me também a esperteza e os meios para acompanhar decentemente a competição, pelo que só me lembro do US Open que se seguiu (perdeu, para o Pete Sampras) e do regresso à final de Roland Garros, um ano depois, para lerpar frente ao Jim Courier (vi-o ontem na televisão, está igual - ou seja, uma versão beta do Josh Homme, dos Queens of the Stone Age).
A partir desse reencontro, a minha vida mudou. Ganhei aqueles comportamentos referidos acima, tentando saber sempre por onde andava o homem, com quem ganhava e perdia jogos, que tropelias extra-ténis lhe atribuíam. Chorava de tristeza ultra genuína com os desgostos, e acreditava nos jornalistas que diziam que, graças à sua inconstância, nunca ganharia qualquer torneio dos grandes.
Wimbledon de 92 foi assim uma data mágica. Acho que me consigo lembrar com pormenor de todos os passos que dei durante aquela quinzena em que o improvável - ganhar em relva, a mais particular das superfícies - aconteceu ao então Kid de Las Vegas. Gastei mais de mil escudos em jornais e revistas que ainda hoje guardo, num dossier que não consigo encarar como tolo. Eu vivia aquilo. Para aquilo. Se calhar é ao senhor campeão que devo imputar a culpa de, enquanto as minhas amigas deliravam com as bandas do momento ou os
pin ups de Hollywood, eu pouco acompanhar tais artes. A maluqueira com que seguia o circuito (e mais jogos não via porque TV Cabo era, ainda, uma realidade distante) ocupava-me o tempo e o coração, não havia força para mais paixões.
Só nos últimos três ou quatro anos abrandei um pouco o ritmo. É preciso ver que o senhor entretanto assentou (abençoada Stefi, por isto e aquilo), a idade começou a pesar e os torneios em que participa a rarear. Mas sei que continua tudo lá, com a mesma chama. Hoje é Sábado: vi-o ganhar, jogando mal, a um estreante de nome Robby Ginepri. Amanhã, será com toda a certeza torturado pelo Roger Federer, o rei do ténis actual. Mas na madrugada de Quarta para Quinta, fiquei em casa do meu batato para ver, das 03h às 06h, a inacreditável partida entre o simpático ancião e o novato, e também com o seu quê de inacreditável, James Blake. Não exagerarei se disser que foi o jogo mais belo e emocionante que vi. Pela primeira vez em 15 anos, fiquei a pensar que o perdedor (também) merecia ter vencido. No final, o Andre (como é conhecido cá em casa, tamanha é a familiariedade) dizia que, para si, ganhar aquele jogo fora como arrebatar a final, e que o ténis era aquilo: respeito pelo adversário, paixão pelo jogo, incerteza até ao final.
Fiquei de sorriso incrédulo e pernas a tremer, olhando para o écran sem perceber se a resposta ao serviço tinha sido boa (o televisor estava sem som, não ouvia os guinhcos histéricos dos nova-iorquinos). A bola era boa, determinou o árbitro. Os adversários abraçaram-se na rede e Blake terá dito a Agassi que, se é para continuar a jogar assim... que continue por muito tempo.
Antes que chegue então a malfadada final com Federer, obrigada ao segundo canal por me ter mostrado aquele jogo, em 1990, e ao meu Pai por me explicar as regras do jogo. Durante anos, os desafios e os torneios ditaram o meu calendário pessoal e a perspectiva de um dia ver o homem jogar ao vivo enchia-me de esperança. Aconteceu nos Masters de Ténis de Lisboa, em 2002, e deu-me a oportunidade de dar um passou-bem ao meu herói. Valeu a pena quase ser esmagada por uma pequena multidão em busca de autógrafos, tal como valeu a pena ser fã dedicada e algo tresloucada durante este 15 anos, em que passei de menina a mulher e ele de miúdo carismático a jogador temido. Sem este garrido capítulo, a minha vida teria tido, sem dúvida, muito menos graça.